Quando o diferente toma a palavra
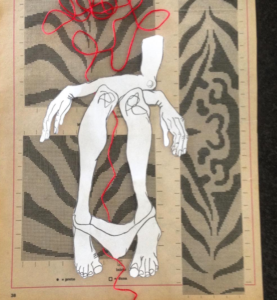
Bárbara Snizek Ferraz de Campos[1] e Renata Silva de Paula Soares[2]
Se a sala de aula é palco de diferentes impasses, o Laboratório Ciranda de Conversa[3] se norteia pela aposta de que as crianças e adolescentes, ao serem escutados em suas posições de sujeitos, podem inventar saídas próprias e originais para suas questões singulares. Sabemos que acolher a diferença é mais do que uma proposta de inclusão escolar, é dar voz ao estranho no outro e em si próprio. Porém, na medida em que as práticas educativas visam a normatização do gozo da criança, correm o risco de dar suporte ao empuxo de tentar calar as vozes dissonantes, fazendo a diferença retornar sob a forma de ameaça. O adestramento do gozo, em nome da “educação”, pode levar à segregação, uma vez que toma a forma de um ideal normatizante que impede a invenção[4]. Promover conversações inter-disciplinares em torno de questões como estas é um desafio para o CIEN, em sua aposta nas invenções das crianças, sujeitos que podem encontrar suas próprias soluções.
O dispositivo da conversação, ao fazer circular a palavra, aposta que falar faz diferença, ou seja, pode criar reflexão e espaço para que algo novo possa ser dito. A conversação é a “possibilidade de favorecer a enunciação que permite, para aquele que se aventura nessa aposta, na qual nada está garantido – não uma preocupação terapêutica, em todo caso – que um saber inédito possa ser dito.”[5] Entretanto, é de suma importância ressaltar que “o dom da palavra é um dom ali onde isso não fala”[6], ou seja, é preciso levar a sério a consideração da causalidade psíquica. “Para operar um desajuste das identificações que coloque em jogo o saber e fazê-lo circular, é preciso conservar um véu sobre o objeto a. O véu sobre a causa em jogo define o objetivo do grupo.”[7] Colocar um limite à associação livre, finalizá-la bruscamente é também uma maneira de não aceitar os princípios diretivos, de não aceitar funcionar “em nome de”, pelo bem-estar da instituição em geral, pelo discurso dominante. Ou seja, a conversação não investe na ideia de que falar alivia, mas ao contrário, parte do princípio que existe “gozo do blá-blá-blá”[8], assim, o corte pode ter um efeito sobre o gozo, podendo colocar os sujeitos a trabalho.
Apresentamos um recorte de uma conversação realizada com uma turma de uma escola municipal de Curitiba, localizada em uma comunidade muito específica da cidade, uma favela atravessada pela pobreza e pelo tráfico intenso de drogas. São alunos do 5° ano, idade entre 10 a 14 anos, considerados “impossíveis” pela coordenação e professores da escola. Expostos a um cotidiano de violência e segregação, alguns são refugiados, outros são carrinheiros ou crianças em situação de vulnerabilidade social com vivência de rua.
No decorrer de nossos encontros não eram raros os relatos de tiroteios, assassinatos e embates entre policiais e traficantes, nos quais as crianças eram espectadoras atentas, quando não parte dos conflitos. Entendemos a escola como um local central da construção da infância na comunidade, na medida em que acolhia as crianças e suas famílias na amplitude de sua vivência, como um ponto de ancoragem na experiência social da favela. Ou seja, a escola, no cotidiano, não era um abrigo idealizado onde as crianças podiam aprender e desfrutar de suas infâncias, mas uma parte da totalidade de sua experiência social. Ao pensar dessa forma, o Laboratório pôde acompanhar esses sujeitos a um ponto outro de elaboração de sua subjetividade.
Logo em nosso primeiro contato, as professoras se mostraram apreensivas, entre outras demandas, com um aluno, o Joaquim. Ressaltaram que era “diferente, estranho”, mesmo tendo rendimento escolar razoável. A preocupação estava relacionada à interação social do menino, que se relacionava de forma impulsiva com os colegas, ora batendo, ora apanhando. Iniciamos as conversações sem lançar um olhar diferente para Joaquim, mas atentas à circulação de palavras entre as crianças. Logo que o tema do bullying surgiu, ele foi dado pela turma como exemplo de um aluno que tanto fazia, quanto sofria bullying. Se para eles, bullying era “bater, xingar, dar apelidos”, o fato de o terem apelidado de “Juca, Joca, Nariz de Pipoca” lhes parecia revelador, a prova concreta do bullying. Expuseram que seu grande incômodo era o fato do menino imitar animais, em momentos inoportunos e fora de contexto. Por sua vez, ele tentava ser participativo interrompendo os colegas, usando seu corpo para se aproximar das participantes do laboratório e gritando. Percebíamos que os outros alunos falavam de Joaquim sem lhe “passarem a palavra”, como se ele não estivesse presente na roda ou como se ele não tivesse entendendo muito bem o que estava se passando. Melhor dizendo, os colegas falavam dele, mas não falavam com ele. Era notável como o menino “respondia” batendo nos colegas ou gritando. Em um dado momento, interviemos passando a palavra para Joaquim. Pedimos que ele falasse algo e sustentamos sua fala pedindo que os colegas lhes prestassem atenção. Ele se dirigiu para o meio da roda, mostrando alguns animais que imitava. Foi então que outro menino tomou a palavra para lançar uma questão à turma: será que Joaquim fazia bullying ou só se expressava de forma diferente? Disse: “Ele é diferente porque imita animais. Mas é diferente chamar alguém de filho da puta e vai se foder de imitar animais. Qual o problema de ele imitar animais se nem está nos provocando?”
Joaquim se colocava de forma estranha, revelando um modo próprio de relação à linguagem, com seus pares e com o mundo que o cercava. Seu comportamento parecia esquisito para os colegas e era tratado com estranhamento, sendo alvo de agressividade. Tendo em vista uma questão levantada por Miquel Bassols[9], indagamos sobre o vivo dessa experiência: “como se incluir, efetivamente, a partir da exceção”? Neste ponto, ressaltamos que a turma era atravessada pela agressividade: traziam na fala o que carregavam da vivência na comunidade, onde presenciavam cotidianamente fatos brutais mergulhados em uma sociabilidade que valorizava a violência. Entre as crianças, os assuntos acabavam sendo “resolvidos” por meio de empurrões e tapas. Suas palavras eram duras e as professoras se queixavam de seus comportamentos violentos. O menino Joaquim era nomeado como o agressivo, mas a truculência estava em todos os cantos da sala. Essa nomeação parecia ter uma dupla função: localizar a agressividade da turma e tamponar a diferença que Joaquim revelava com sua forma estranha de estar no mundo. Assim, quando as crianças puderam lançar uma pergunta sobre que ameaça estava lançada na imitação dos animais, elas puderam escutar suas próprias palavras sobre sua vivência violenta e a ameaça encarnada em Joaquim caiu. Quando a palavra circulou, novas possibilidades de relação se descortinaram para aquelas crianças, que inventaram uma nova maneira de se relacionar com as suas próprias palavras, e, consequentemente, entre si. Um novo saber foi inventado.
No decorrer das conversações, as crianças passaram a tratar de sua experiência de imersão na violência da comunidade. Trouxeram a fragilidade da autoridade familiar em contrapartida com a autoridade estabelecida pelo tráfico na comunidade. Todos demonstraram conhecer e seguir os códigos do local, como se comportar para evitar conflitos e perigos quando os embates aconteciam. Enfim, puderam se questionar sobre seus lugares de sujeito em meio a uma estrutura social tão organizada em torno do tráfico. Já em um dos nossos últimos encontros, o assunto bullying voltou à roda, momento em que pudemos perceber uma mudança de posição em relação à Joaquim, ou melhor, em relação às diferenças. Uma das crianças disse: “ele é bem loucão, mas dá pra trocar uma ideia... ele tem o jeito dele. Ele é nosso parceirinho. Às vezes a gente zoa, mas é de boa.” Contaram que nomearam o mascote da turma, um pinguim de pelúcia, como “Pipoca”, em homenagem ao Joca Pipoca. O Joaquim sentenciou: “eu ia preferir Joaquim Junior, mas Pipoca também ficou bom”. O relacionamento entre os colegas era bem diferente do começo, pois as crianças interagiam com Joaquim de forma amigável e o acolhiam em sua singularidade. Contaram que o menino ficava bastante nervoso em algumas situações, mas que eles sabiam que gibis o acalmavam. Assim, eles diziam que já sabiam como agir nos momentos de crise de Joaquim, inclusive explicando às professoras sobre a importância das revistinhas para o menino. Nas conversações subsequentes, Joaquim encontrou um modo próprio de dizer o que desejava e os colegas, uma forma de o escutarem em sua diferença, como por exemplo quando discutiram sobre as pluralidades das formas do amor: ele explicou para a turma que “existe amor de vários jeitos”.
Em meio a um cotidiano atravessado pelos tiros e drogas, essas crianças, até então “impossíveis”, inventaram algo que parecia impossível: ousaram se questionar sobre a possibilidade de fazer diferente. Elas nos ensinaram que é preciso furar a barreira da pobreza e da segregação urbana, pois “quando o Outro asfixia o sujeito, trata-se, com a criança, de fazê-la regular esse Outro a fim de devolver à criança uma respiração.”[10] Eis o alcance do CIEN, um alcance que toma a criança como epicentro de sua própria invenção.