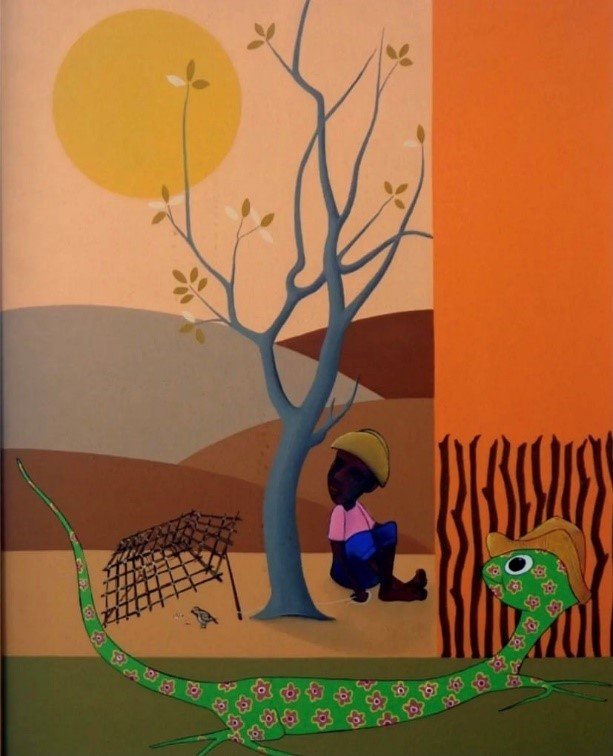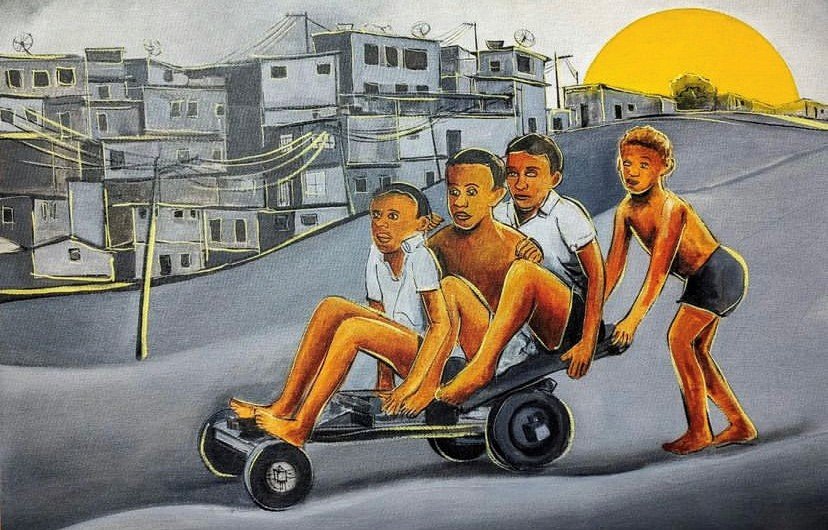Da prática à conversação ou da conversação à prática?[1]
Laboratório Criar (em formação) – CIEN-SP - Eduardo Vallejos O Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Criança (CIEN) tem como um de seus objetivos que a psicanálise possa se deixar ensinar sobre aquilo que outras disciplinas revelam sobre o saber…