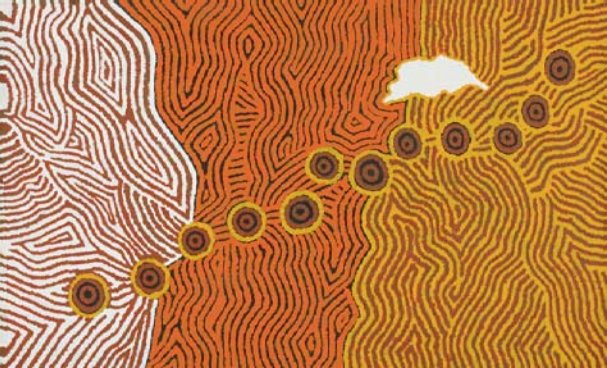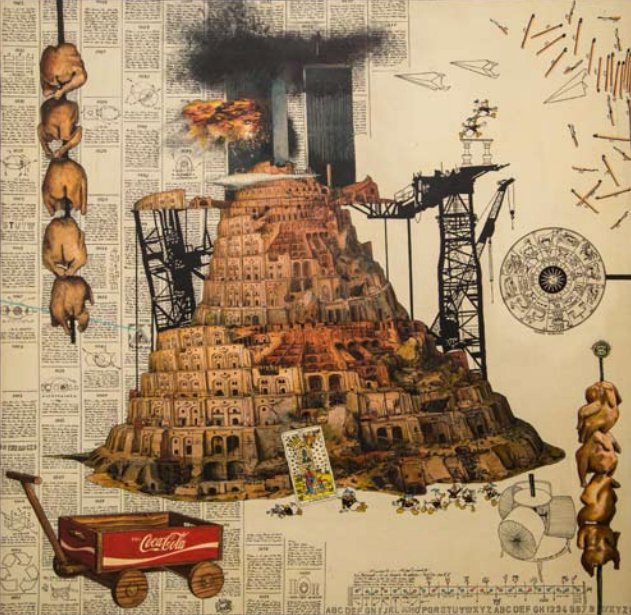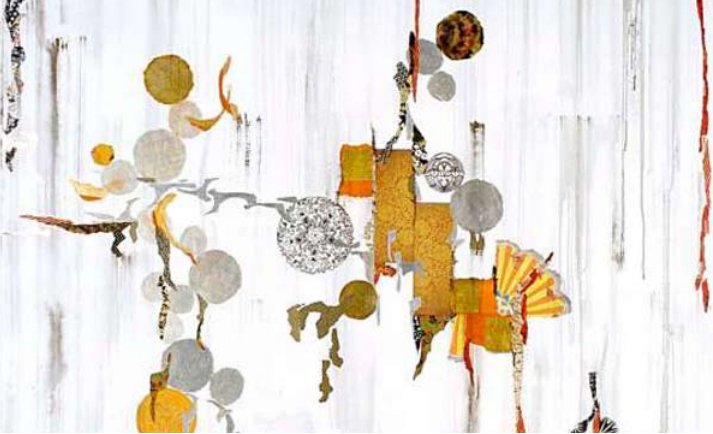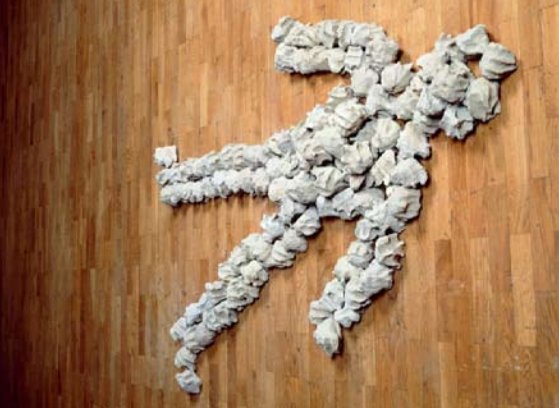CONVERSAÇÃO INTERNACIONAL DO CIEN-Americano “Os laços sociais e suas transformações” 12 de setembro de 2017
Argumento "O porvir dos laços sociais" foi explorado pelo CIEN há mais de uma década, em 2003, dada a dificuldade em construir pontes, laços de suporte e intercâmbio entre adultos, jovens e crianças em um mundo desagregado, disperso, múltiplo. A aposta…
Trauma, Solidão e Laço na Infância e na Adolescência – Experiências do CEIN no Brasil
“Crianças e adolescentes brasileiros, este livro lhes faz saber que vocês tem ao seu lado mulheres e homens, vindos de todos os meios e de todas as culturas de seu país múltiplo; por terem eles próprios se confrontado com essas…
As vias do CIEN
Éric Laurent Barcelona, novembro de 1997. Graças ao trabalho do CIEN, confirmado na sua brochura número 1, sabemos o sentido que começa a ter a palavra interdisciplinar e podemos começar a dar uma melhor forma às vias que ela vai…
Entrevista com Beatriz Udenio Cien Digital, Julho de 2017
por Síglia Leão Cien Digital: “Os laços sociais e suas transformações” é o tema da próxima Jornada Internacional do CIEN. Você poderia nos contar um pouco sobre a escolha desse tema? Beatriz Udenio: Claro que sim. Voltamos à questão dos laços sociais…
As Instituições de Acolhimento e o singular da criança e do adolescente
“As instituições de acolhimento de crianças e adolescentes” é o tema que anima a Conversação do laboratório O saber da Criança em Campinas. O tema surgiu a partir dos vários questionamentos trazidos por profissionais que trabalham com crianças e adolescentes…
Conversação Inter-disciplinar/CIEN-Bahia: “As (Trans) Formações no Laço Social: A Inquietante Estranheza do Gênero”
Mônica Hage Pereira e Wilker França Por ocasião do forte debate na cidade sobre as questões de gênero e instigados em nos deixar aprender pelos diversos discursos que giram em torno dessa temática, no dia 04 de Maio de 2017,…
CIEN SANTA CATARINA Resenha – Noite do Cien de 31/05/17
Jussara Jovita Souza da Rosa Esta Noite, contou com a presença da Psicanalista e Doutora em Psicologia Adriana Rodrigues, que nos brindou com um recorte feito de sua tese de Doutorado, intitulada “A psicanálise e a política de assistência social brasileira:…
O furo como um traço de união?
Sílvia Sato A prática do Cien A prática do Cien - Centro Inter-disciplinar de Estudos sobre a Criança e Adolescente - nasce de uma função que Lacan propõe para sua Escola, de manter uma relação entre a psicanálise e os…
Uma prática na escola – Efeitos do encontro com o CIEN
Mirta Fernandes O encontro com o CIEN permitiu situar e nomear uma questão que rondava um trabalho de psicanalise aplicada, que vem sendo desenvolvido há alguns anos em uma instituição de ensino, Escola Alfa, a partir de demandas de palestras…