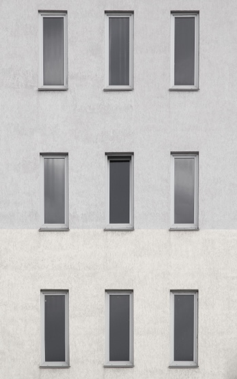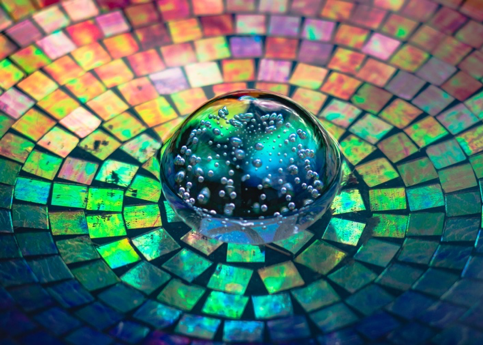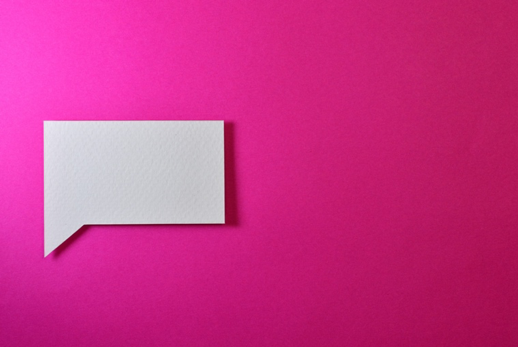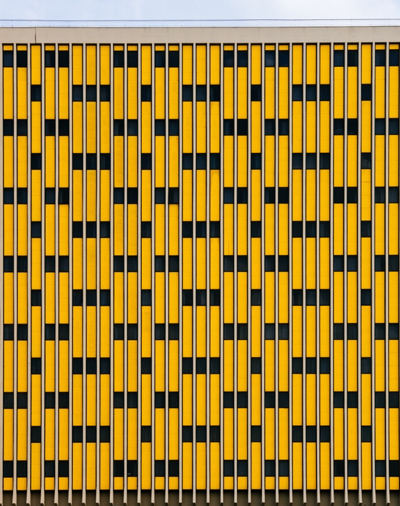Editorial – Novembro de 2019
Paola Salinas e Síglia Leão O Cien Digital 23 está no ar! Neste número, os diferentes trabalhos do Cien Brasil e do Campo Freudiano transitam num tempo lógico. Logo no início, Daniel Roy e Marie-Hèléne Brousse orientam, em seus textos,…