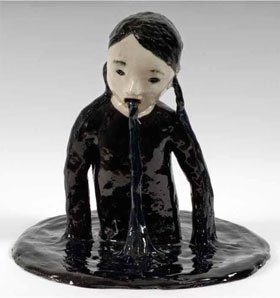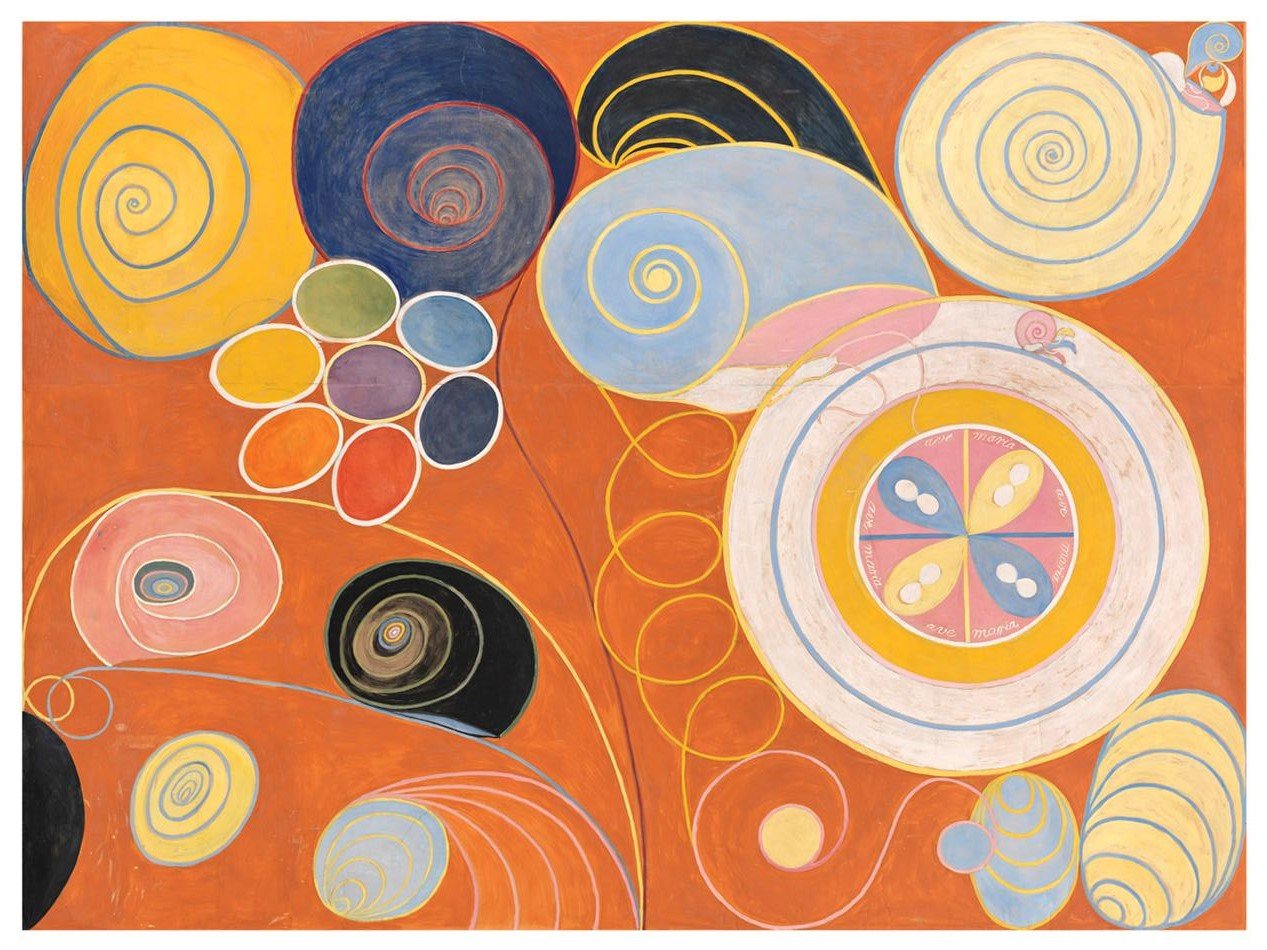Editorial – Agosto 2014
Maria Rita Guimarães Caro leitor e amigo do Cien Digital, Este novo número traz dois importantes registros da vivacidade com que o CIEN no BRASIL trabalha: a permutação dos colegas que participam de sua Coordenação e o convite a que…