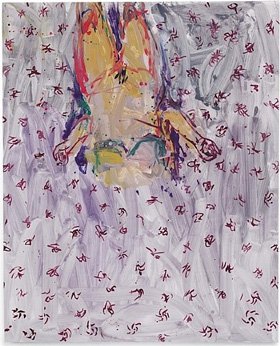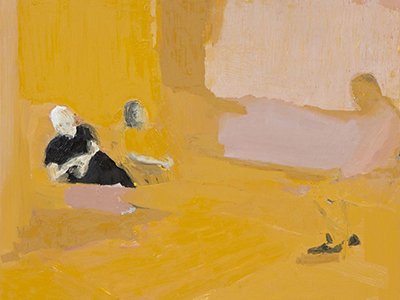Violência e confronto na adolescência: o que pode fazer borda?
Pedro Braccini Pereira[1] Não nos é habitual, para designar os adolescentes que vem nos ver devido a seu sintoma e sofrimento, destacar um qualificativo comumente estigmatizante, tal como pode ser o significante “violento”. Porém, partimos da constatação de que esse…