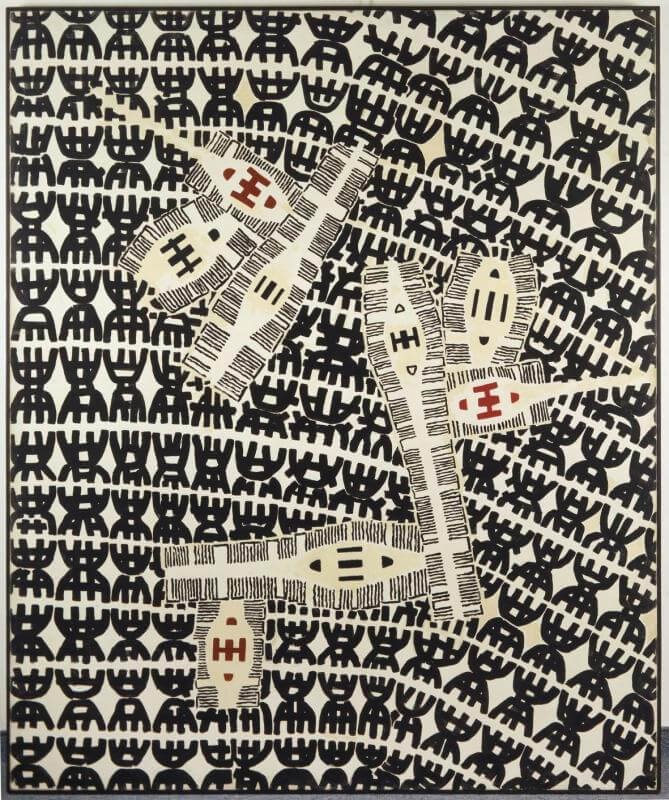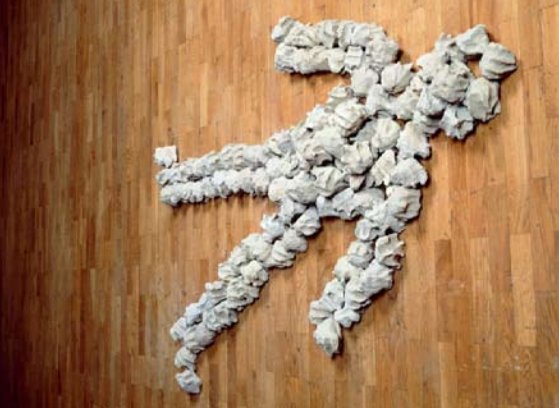Laboratório O saber da Criança: Começo meio e fim.
Cláudia Regina Santa Silva (responsável do laboratório). Participantes: Beth Rossin, Cassia Rosato, Nataly Pimentel e Tatiana Vidotti. Para início deste texto, já de saída, coloco algumas questões: Quando começa um laboratório do CIEN, e quando termina? Neste intervalo entre começo…