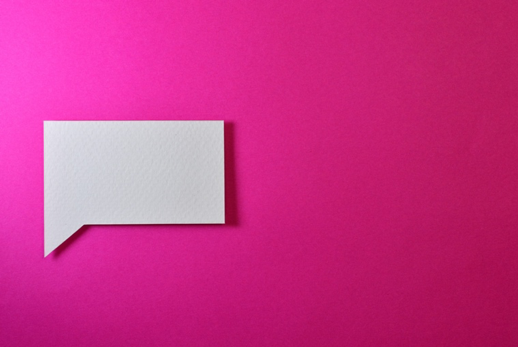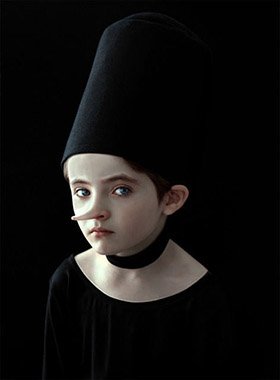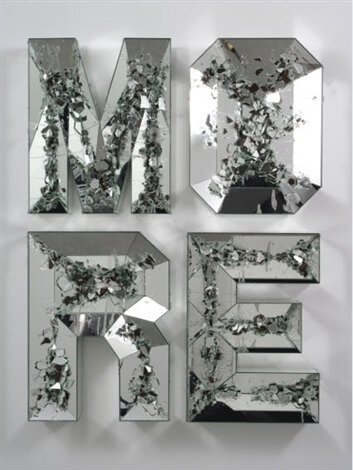ENTRE-VISTA COM DAMASIA AMADEO DE FREDA
Cien Digital, novembro de 2018, por CIEN-Minas CIEN-Minas: O CIEN, em sua especificidade, consiste em apreender, via conversação, o ponto de real ao qual se está confrontado nas diversas disciplinas diante do esforço de normatização. Você salienta em vários textos…