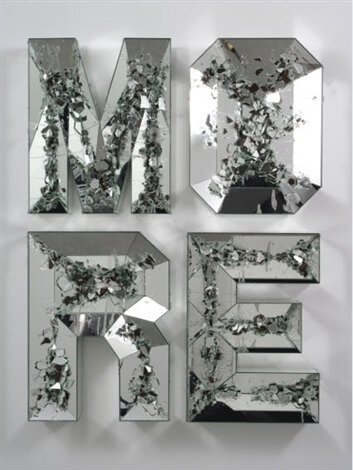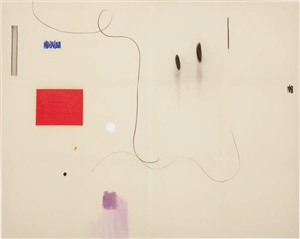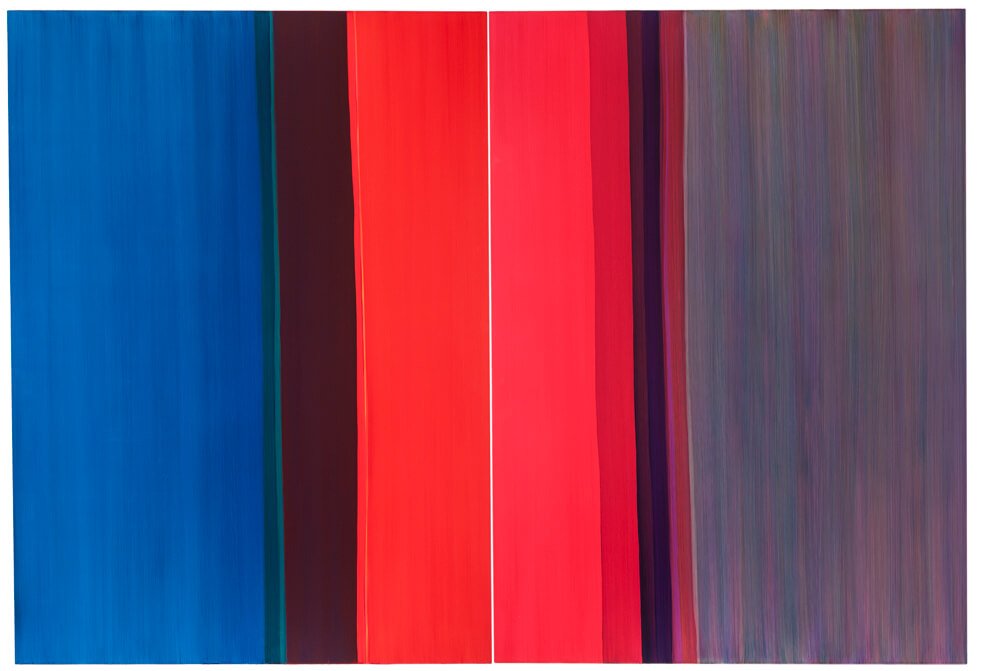Editorial – Outubro 2016
Maria Rita Guimarães Caro leitor e amigo do Cien Digital, Este número que agora lhe oferecemos, consagra-se a nos levar por trilhas poéticas e, às vezes, também tortuosas, ao redor dos significantes convocados pelo tema da adolescência: desejo, solidão, laço…