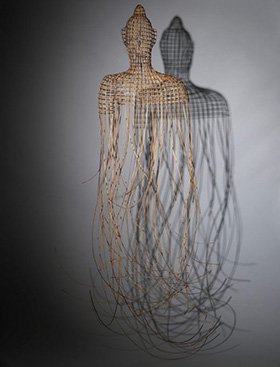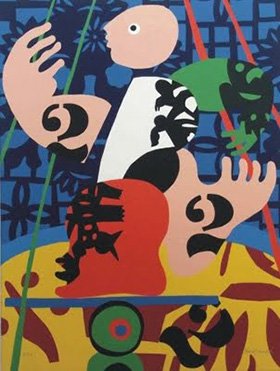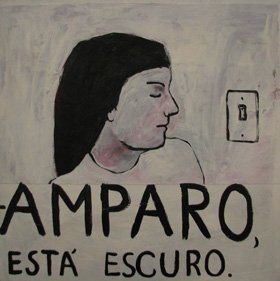Editorial – Abril de 2013
Maria Rita Guimarães Caro leitor, No número inaugural do CIEN Digital dissemos, parafraseando Jacques Alain-Miller1, que sua ambição é “bem aquela de ser o Boletim eletrônico do real”. Desde então nos esforçamos por manter esse objetivo e esse número o…