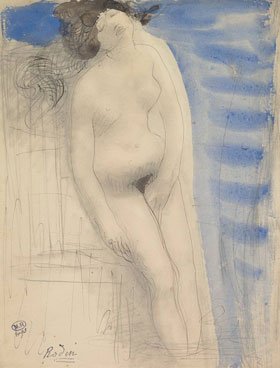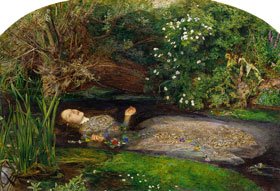Editorial – Março 2016
Maria Rita Guimarães Caro leitor e amigo do Cien Digital, O Centro de Investigação e Estudos da Infância e Adolescência – CIEN - tal como está indicado no título em português, mantém o adolescente como objeto de sua pesquisa e prática, orientado pela…